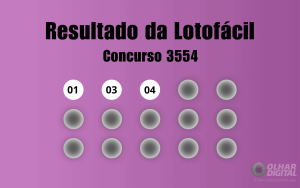Biden e a busca por uma nova estratégia americana.
“A América está de volta.” Nos primeiros dias de sua presidência, Joe Biden repetiu essas palavras como ponto de partida para sua política externa. A frase ofereceu um slogan para se afastar da liderança caótica de Donald Trump. Também sugeria que os Estados Unidos poderiam recuperar sua autopercepção como um hegemônico virtuoso, que poderiam tornar a ordem internacional baseada em regras grande novamente. No entanto, mesmo que um retorno à normalidade competente fosse necessário, a mentalidade de restauração da administração Biden ocasionalmente lutou contra as correntes de nossos tempos desordenados. Uma concepção atualizada da liderança dos EUA — adaptada a um mundo que superou a primazia americana e as excentricidades da política americana — é necessária para minimizar enormes riscos e buscar novas oportunidades.
Sem dúvida, a promessa inicial de Biden foi um bálsamo para muitos após a presidência de Trump ter terminado nas duplas catástrofes da COVID-19 e da insurreição de 6 de janeiro. No entanto, dois desafios, em grande parte fora do controle da administração Biden, ofuscaram a mensagem de restauração da superpotência. O primeiro foi o espectro do retorno de Trump. Aliados observavam nervosamente enquanto o ex-presidente mantinha seu controle sobre o Partido Republicano e Washington permanecia atolada em disfunções. Adversários autocráticos, mais notavelmente o presidente russo Vladimir Putin, apostavam na falta de persistência de Washington. Novos acordos multilaterais, semelhantes ao acordo nuclear com o Irã, ao acordo climático de Paris ou à Parceria Transpacífica, eram impossíveis, dada as vertiginosas oscilações na política externa dos EUA.
Em segundo lugar, a antiga ordem internacional baseada em regras não existe mais realmente. Claro, as leis, estruturas e cúpulas permanecem no lugar. Mas instituições centrais como o Conselho de Segurança da ONU e a Organização Mundial do Comércio estão paralisadas por desacordos entre seus membros. A Rússia está comprometida em desestabilizar as normas fortalecidas pelos EUA. A China está comprometida em construir sua própria ordem alternativa. Em termos de comércio e política industrial, até mesmo Washington está se afastando dos princípios centrais da globalização pós-Guerra Fria. Potências regionais como Brasil, Índia, Turquia e os estados do Golfo escolhem com quais parceiros se alinhar dependendo da questão. Mesmo o auge da ação multilateral nos anos Biden — o apoio à Ucrânia em sua luta contra a Rússia — permanece uma iniciativa amplamente ocidental. À medida que a velha ordem se desfaz, esses blocos sobrepostos competem pelo que a substituirá.
Uma vitória de Biden nas eleições deste outono ofereceria a tranquilidade de que o risco particular de outra presidência de Trump passou, mas isso não eliminará as forças da desordem. Até o momento, Washington falhou em realizar a auditoria necessária das maneiras como sua política externa pós-Guerra Fria desacreditou a liderança dos EUA. A “guerra ao terror” encorajou autocratas, realocou mal os recursos, alimentou uma crise migratória global e contribuiu para um arco de instabilidade do sul da Ásia ao norte da África. As prescrições de mercado livre do chamado consenso de Washington terminaram em uma crise financeira que abriu as portas para populistas que criticavam as elites fora de contato com a realidade. O uso excessivo de sanções levou a aumentos nas alternativas e à fadiga global com a armação da dominância do dólar por Washington. Nas últimas duas décadas, as palestras americanas sobre democracia foram cada vez mais ignoradas.
De fato, após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro e a campanha militar israelense em Gaza, a retórica americana sobre a ordem internacional baseada em regras tem sido vista ao redor do mundo em uma tela dividida de hipocrisia, enquanto Washington forneceu ao governo israelense armas usadas para bombardear civis palestinos com impunidade. A guerra criou um desafio político para uma administração que critica a Rússia pelas mesmas táticas indiscriminadas que Israel usou em Gaza, um desafio político para um Partido Democrata com constituintes centrais que não entendem por que o presidente apoiou um governo de extrema-direita que ignora os conselhos dos Estados Unidos, e uma crise moral para um país cuja política externa alega ser dirigida por valores universais. Simplificando: Gaza deveria chocar Washington para fora da memória muscular que guia muitas de suas ações.
Se Biden vencer um segundo mandato, ele deve utilizá-lo para construir sobre aquelas de suas políticas que têm levado em conta as realidades globais em mudança, enquanto se afasta das considerações políticas, do maximalismo e da visão ocidental que fizeram sua administração cometer alguns dos mesmos erros de seus antecessores. As apostas são altas. Quem for presidente nos próximos anos terá que evitar uma guerra global, responder à crescente crise climática e lidar com o surgimento de novas tecnologias como a inteligência artificial. Enfrentar o momento requer abandonar uma mentalidade de primazia americana e reconhecer que o mundo será um lugar turbulento nos próximos anos. Acima de tudo, requer construir uma ponte para o futuro — não para o passado.
A AMEAÇA TRUMP
Um dos mantras de Biden é “Não me compare ao Todo-Poderoso; compare-me à alternativa.” À medida que a campanha presidencial esquenta, vale a pena seguir esse conselho. Mas para delinear adequadamente os perigos de um segundo mandato de Trump, é necessário levar os argumentos de Trump a sério, apesar da forma não séria que eles frequentemente assumem. Muito do que Trump diz ressoa amplamente. Os americanos estão cansados de guerras; de fato, a tomada do Partido Republicano por ele teria sido impossível sem a guerra do Iraque, que desacreditou o establishment do GOP. Os americanos também não confiam mais em suas elites. Embora a retórica de Trump sobre um “estado profundo” rapidamente se transforme em teoria da conspiração infundada, ela atinge um ponto sensível com os eleitores que se perguntam por que tantos dos políticos que prometeram vitórias no Afeganistão e no Iraque nunca foram responsabilizados. E embora a disposição de Trump de cortar a assistência à Ucrânia seja abominável para muitos, há um populismo potente nisso. Por quanto tempo os Estados Unidos gastarão dezenas de bilhões de dólares ajudando um país cujo objetivo declarado — a retomada de todo o território ucraniano — parece inatingível?
Trump também aproveitou uma reação populista à globalização tanto da direita quanto da esquerda. Particularmente desde a crise financeira de 2008, grandes segmentos do público em democracias têm fervido de descontentamento com o aumento da desigualdade, a desindustrialização e uma percepção de perda de controle e falta de significado. Não é de se admirar que os exemplares da globalização pós-Guerra Fria — acordos de livre comércio, a relação EUA-China e os instrumentos de cooperação econômica internacional — tenham se tornado alvos maduros para Trump. Quando as abordagens mais punitivas de Trump aos rivais, como sua guerra comercial com a China, não precipitaram todas as calamidades que alguns haviam previsto, sua abordagem de quebra de tabus pareceu ser validada. Descobriu-se que os Estados Unidos, afinal, tinham alavancagem.
Mas oferecer uma crítica potente dos problemas não deve ser confundido com ter as soluções corretas para eles. Para começar, a própria presidência de Trump semeou grande parte do caos que Biden enfrentou. Vez após vez, Trump seguiu atalhos politicamente motivados que pioraram as coisas. Para acabar com a guerra no Afeganistão, ele fez um acordo com o Talibã sobre as cabeças do povo afegão, estabelecendo um cronograma de retirada que era mais curto do que o que Biden eventualmente adotou. Trump saiu do acordo nuclear com o Irã, apesar da conformidade iraniana, libertando o programa nuclear do país, escalando uma guerra por procuração em todo o Oriente Médio e semeando dúvidas em todo o mundo sobre se os Estados Unidos mantêm sua palavra. Ao mover a embaixada dos EUA em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecer a anexação das Colinas de Golã e buscar os Acordos de Abraão, ele excluiu os palestinos da normalização árabe-israelense e encorajou a extrema direita de Israel, acendendo um pavio que detonou na guerra atual.
Embora a linha mais dura de Trump com a China tenha demonstrado a alavancagem dos Estados Unidos, foi episódica e descoordenada com os aliados. Como resultado, Pequim conseguiu se apresentar como um parceiro mais previsível para grande parte do mundo, enquanto as interrupções na cadeia de suprimentos causadas por disputas comerciais e desacoplamentos criaram novas ineficiências — e aumentaram os custos — na economia global. O movimento brusco de Trump de confrontar para abraçar Kim Jong Un permitiu que o líder norte-coreano avançasse seus programas nuclear e de mísseis sob pressão reduzida. Mais perto de casa, o reconhecimento de Trump de um governo venezuelano alternativo sob o líder da oposição Juan Guaidó conseguiu fortalecer o poder do titular Nicolás Maduro. A política de “pressão máxima” em relação à Venezuela e Cuba, que buscava promover mudanças de regime por meio de sanções severas e isolamento diplomático, alimentou crises humanitárias que enviaram centenas de milhares de pessoas para a fronteira sul dos Estados Unidos.
Evelyn Hockstein / Reuters
Um segundo mandato de Trump começaria em um ambiente global mais volátil do que seu primeiro, e haveria menos restrições para um presidente que estaria no comando de seu partido, cercado por lealistas e livre de ter que enfrentar os eleitores novamente. Embora existam muitos riscos, três se destacam. Primeiro, a mistura de nacionalismo autoritário e isolacionismo de Trump poderia criar uma estrutura de permissão para a agressão. Uma retirada do apoio dos EUA à Ucrânia — e, talvez, à OTAN em si — encorajaria Putin a avançar mais profundamente no país. Se Washington abandonasse seus aliados europeus e promovesse o nacionalismo de direita, isso poderia exacerbar fissuras políticas dentro da Europa, encorajando nacionalistas alinhados com a Rússia em lugares como Hungria e Sérvia, que ecoam Putin na busca por reunir populações étnicas em estados vizinhos.
Apesar das tensões EUA-China, o Leste Asiático evitou o conflito direto que ocorre na Europa e no Oriente Médio. Mas considere a oportunidade que uma vitória de Trump apresentaria à Coreia do Norte. Fortalecido pela assistência tecnológica russa aumentada, Kim poderia intensificar provocações militares na Península Coreana, acreditando que tem um amigo na Casa Branca. Enquanto isso, de acordo com avaliações dos EUA, o exército chinês estará pronto para uma invasão de Taiwan até 2027. Se o líder chinês Xi Jinping realmente desejar trazer Taiwan à soberania de Pequim pela força, o fim de uma presidência de Trump — momento em que os Estados Unidos provavelmente estariam alienados de seus aliados tradicionais — poderia apresentar uma oportunidade.
Segundo, se tiver a chance, Trump deixou claro que quase certamente reverteria a democracia americana, um movimento que repercutiria globalmente. Se sua primeira eleição representou uma interrupção única para o mundo democrático, sua segunda validaria mais definitivamente uma tendência internacional em direção ao etnonacionalismo e ao populismo autoritário. O momentum poderia se mover ainda mais na direção de partidos de extrema direita na Europa, populistas performáticos nas Américas e corrupção nepotista e transacional na Ásia e na África. Considere por um momento a lista envelhecida de homens fortes que provavelmente ainda estarão liderando outras potências — não apenas Xi e Putin, mas também Narendra Modi na Índia, Benjamin Netanyahu em Israel, Ali Khamenei no Irã e Recep Tayyip Erdogan na Turquia. Para dizer o mínimo, este elenco de personagens é improvável de promover respeito pelas normas democráticas dentro das fronteiras ou conciliação além delas.
Isso nos leva ao terceiro perigo. Nos próximos anos, os líderes serão cada vez mais confrontados com problemas globais que só podem ser geridos ou resolvidos por meio da cooperação. À medida que a crise climática se agrava, uma presidência de Trump tornaria uma resposta internacional coordenada muito mais difícil e validaria a reação contra políticas ambientais que vem crescendo dentro das economias avançadas. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial está prestes a decolar, criando tanto oportunidades valiosas quanto enormes riscos. Em um momento em que os Estados Unidos deveriam estar recorrendo à diplomacia para evitar guerras, estabelecer novas normas e promover maior cooperação internacional, o país seria liderado por um “homem forte América em primeiro lugar”.
UM TEMPO PARA CURAR
Em qualquer administração, a política de segurança nacional é uma mistura peculiar de compromissos de longa data, antigos interesses políticos, novas iniciativas presidenciais e respostas improvisadas a crises repentinas. Navegando nas correntes turbulentas do mundo, a administração Biden muitas vezes pareceu incorporar as contradições dessa dinâmica, com um pé no passado, ansiando nostalgicamente pela primazia americana, e um pé no futuro, ajustando-se ao mundo emergente como ele é.
Por meio de sua agenda afirmativa, a administração reagiu bem às realidades em mudança. Biden vinculou política interna e externa por meio de sua agenda legislativa. O CHIPS Act fez investimentos substanciais em ciência e inovação, incluindo a fabricação doméstica de semicondutores. O ato funcionou em paralelo com controles de exportação e investimento intensificados no setor de alta tecnologia da China, que fortaleceram a liderança dos Estados Unidos no desenvolvimento de novas tecnologias, como IA e computação quântica. Embora essa história seja mais complicada de contar do que uma sobre uma guerra comercial baseada em tarifas, a política de Biden é de fato mais coerente: revitalizar a inovação e a manufatura avançada dos EUA, desvincular cadeias de suprimentos críticas da China e manter uma liderança para empresas americanas no desenvolvimento de novas e potencialmente transformadoras tecnologias.
Gaza deve chocar Washington para fora da memória muscular que guia muitas de suas ações.
A peça legislativa mais significativa de Biden, o Inflation Reduction Act, fez enormes investimentos em tecnologia de energia limpa. Esses investimentos permitirão aos Estados Unidos aumentar sua ambição em atingir metas climáticas, impulsionando a indústria doméstica e os mercados globais a se afastarem mais rapidamente dos combustíveis fósseis. Embora esse avanço tenha aumentado a credibilidade dos EUA em relação às mudanças climáticas, também criou novos desafios, pois até mesmo aliados reclamaram que Washington recorreu a subsídios em vez de buscar abordagens transfronteiriças coordenadas para reduzir emissões. Nesse aspecto, no entanto, a administração Biden estava lidando com o mundo como ele é. O Congresso não pode aprovar reformas complexas, como a fixação de um preço para o carbono; o que pode fazer é aprovar grandes projetos de lei que investem nos Estados Unidos.
Apesar das tensões sobre a política industrial dos EUA, a administração Biden reinvestiu de forma eficaz nas alianças que se desgastaram sob Trump. Esse esforço reconheceu tacitamente que o mundo agora apresenta blocos concorrentes, o que torna mais difícil para os Estados Unidos perseguir grandes iniciativas trabalhando por meio de grandes instituições internacionais ou com outros membros do clube das grandes potências. Em vez disso, Washington priorizou grupos de países com ideias semelhantes que são, para usar uma frase de efeito, “adequados ao propósito”. Colaboração com o Reino Unido e a Austrália em tecnologia de submarinos nucleares. Novas iniciativas de infraestrutura e IA através do G-7. Esforços estruturados para criar mais consultas entre os aliados dos EUA no Indo-Pacífico. Essa abordagem envolve um número vertiginoso de partes; pode-se perder a conta do número de grupos consultivos regionais que agora existem. Mas, no contexto de uma ordem internacional desfeita, faz sentido reunir cooperação onde for possível, enquanto se tenta transformar novos hábitos de cooperação em arranjos duradouros.
Mais notavelmente, o reinvestimento de Biden nas alianças europeias valeu a pena quando Washington conseguiu mobilizar rapidamente o apoio à Ucrânia em 2022. Essa tarefa foi facilitada pela divulgação inovadora de inteligência sobre as intenções da Rússia de invadir, uma reforma tardia na forma como Washington gerencia informações. Embora a guerra tenha alcançado um impasse tênue, o esforço para fortalecer as instituições transatlânticas continua avançando. A OTAN cresceu em tamanho, relevância e recursos. As instituições da União Europeia assumiram um papel mais proativo na política externa, especialmente na coordenação do apoio à Ucrânia e na aceleração de sua candidatura à adesão à UE. Apesar da compreensível consternação sobre a luta de Washington para aprovar um recente projeto de lei de ajuda à Ucrânia, o foco da Europa em suas próprias instituições e capacidades já estava atrasado.
LENTO PARA MUDAR
No entanto, há três maneiras importantes em que a administração Biden ainda não recalibrou sua abordagem ao mundo da pós-primazia americana. A primeira tem a ver com a política americana. Em várias questões que geram controvérsia no Congresso, a administração restringiu ou distorceu suas opções ao se antecipar aos linha-duras desatualizados. Mesmo enquanto Trump demonstrou como o eixo esquerda-direita foi embaralhado na política externa, Biden às vezes se sente preso na política de segurança nacional da era imediata pós-11 de setembro. No entanto, o que antes permitia a um político parecer duro para apaziguar os falcões em Washington raramente era uma boa política; agora, não é necessariamente uma boa política.
Na América Latina, a administração Biden foi lenta em se afastar das campanhas de “pressão máxima” de Trump sobre Venezuela e Cuba. Biden manteve, por exemplo, a avalanche de sanções que Trump impôs a Cuba, incluindo o retorno cínico daquele país à lista do Departamento de Estado de patrocinadores estatais do terrorismo pouco antes de deixar o cargo, em janeiro de 2021. O resultado foi uma crise humanitária aguda em que as sanções dos EUA exacerbavam a escassez de itens básicos, como alimentos e combustíveis, contribuindo para o sofrimento e a migração em massa. No Oriente Médio, a administração não se moveu rapidamente para reentrar no acordo nuclear com o Irã, politicamente contestado, optando em vez disso por buscar o que Biden chamou de um acordo “mais longo e mais forte”, mesmo que Trump tenha sido quem violou os termos do acordo. Em vez disso, a administração abraçou os Acordos de Abraão como centrais para sua política no Oriente Médio, enquanto reverteu para a confrontação com o Irã. Isso efetivamente abraçou o curso preferido de Netanyahu: um afastamento da busca por uma solução de dois estados para o conflito israelo-palestino e uma guerra por procuração aberta com Teerã.
Qualquer pessoa que tenha trabalhado no nexo da política e da segurança nacional dos EUA sabe que evitar atritos com linha-duras anti-Cuba e pró-Israel no Congresso pode parecer o caminho de menor resistência. Mas essa lógica se transformou em uma armadilha. Após 7 de outubro, Biden decidiu seguir uma estratégia de abraçar totalmente Netanyahu — insistindo (por um tempo) que qualquer crítica seria feita em privado e que a assistência militar dos EUA não seria condicionada às ações do governo israelense. Isso gerou boa vontade imediata em Israel, mas eliminou preventivamente a alavancagem dos EUA. Também ignorou a natureza de extrema direita da coalizão governante de Netanyahu, que ofereceu sinais de alerta sobre a forma indiscriminada com que planejava conduzir sua campanha militar, enquanto autoridades israelenses cortavam alimentos e água fluindo para Gaza poucos dias após o ataque do Hamas. Nos meses que se seguiram, a administração tentou alcançar uma situação deteriorada, evoluindo de uma estratégia de abraçar Netanyahu para uma de emitir exigências retóricas que foram amplamente ignoradas, para uma de restrições parciais à assistência militar ofensiva. Ironicamente, ao estar atento aos riscos políticos de romper com Netanyahu, Biden convidou maiores riscos políticos dentro da coalizão democrata e ao redor do mundo.
A tentação de sucumbir aos instintos desatualizados de Washington contribuiu para uma segunda responsabilidade: a busca de objetivos maximalistas. A administração mostrou alguma prudência nessa área. Mesmo com a competição aumentando com a China, Biden trabalhou ao longo do último ano para reconstruir linhas de comunicação com Pequim e evitou em grande parte declarações provocativas sobre Taiwan. E, mesmo comprometendo os Estados Unidos a ajudar a Ucrânia a se defender, Biden estabeleceu o objetivo de evitar uma guerra direta entre os Estados Unidos e a Rússia (embora sua retórica tenha derivado para endossar a mudança de regime em Moscou). O maior desafio às vezes veio de fora da administração, quando alguns apoiadores da Ucrânia se entregaram a um triunfalismo prematuro que elevou expectativas impossíveis para a contraofensiva ucraniana do ano passado. Paradoxalmente, esse impulso acabou prejudicando a Ucrânia: quando a campanha inevitavelmente falhou, fez com que a política mais ampla dos EUA em relação à Ucrânia parecesse um fracasso. Manter o apoio à Ucrânia exigirá maior transparência sobre o que é alcançável a curto prazo e uma abertura para negociações a médio prazo.

Kevin Lamarque / Reuters
Gaza também exemplifica o perigo de objetivos maximalistas. O objetivo declarado de Israel de destruir o Hamas nunca foi alcançável. Como o Hamas nunca anunciaria sua própria rendição, perseguir esse objetivo exigiria uma ocupação israelense perpétua de Gaza ou o deslocamento em massa de seu povo. Esse resultado pode ser o que alguns oficiais israelenses realmente desejam, como evidenciado pelas declarações de ministros de direita. Certamente é o que muitas pessoas ao redor do mundo, horrorizadas pela campanha em Gaza, acreditam que o governo israelense realmente quer. Esses críticos se perguntam por que Washington apoiaria tal campanha, mesmo que sua própria retórica aponte na direção oposta. Em vez de buscar moderar o curso insustentável de Israel, Washington precisa usar sua influência para pressionar por acordos negociados, construção de um estado palestino e uma concepção de segurança israelense que não dependa de expansionismo ou ocupação permanente.
De fato, muitas prescrições soam bem em Washington, mas falham em considerar realidades simples. Mesmo com a vantagem militar dos Estados Unidos, a China desenvolverá tecnologias avançadas e manterá sua reivindicação sobre Taiwan. Mesmo com apoio sustentado dos EUA, a Ucrânia terá que viver ao lado de uma grande Rússia nacionalista e armada com armas nucleares. Mesmo com seu domínio militar, Israel não pode eliminar a demanda palestina por autodeterminação. Se Washington permitir que a política externa seja guiada por demandas maximalistas de soma zero, corre o risco de escolher entre um conflito sem fim e a humilhação.
Isso nos leva à terceira maneira pela qual Washington deve mudar sua abordagem. Muitas vezes, os Estados Unidos parecem incapazes ou relutantes em se ver através dos olhos da maioria da população mundial, especialmente pessoas no Sul Global que sentem que a ordem internacional não foi projetada para seu benefício. A administração Biden fez esforços louváveis para mudar essa percepção — por exemplo, entregando vacinas contra a COVID-19 pelo mundo em desenvolvimento, mediando conflitos da Etiópia ao Sudão e enviando ajuda alimentar para lugares gravemente afetados por escassez exacerbada pela guerra na Ucrânia. No entanto, o uso excessivo de sanções, juntamente com a priorização da Ucrânia e outros interesses geopolíticos dos EUA, não lêem a sala corretamente. Para construir melhores relações com os países em desenvolvimento, Washington precisa consistentemente priorizar os problemas que eles valorizam: investimento, tecnologia e energia limpa.
Mais uma vez, Gaza interage com esse desafio. Para ser franco: para grande parte do mundo, parece que Washington não valoriza a vida das crianças palestinas tanto quanto valoriza as vidas dos israelenses ou ucranianos. A ajuda militar incondicional a Israel, a contestação do número de mortos palestinos, os vetos às resoluções de cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU e a crítica às investigações sobre supostos crimes de guerra israelenses podem parecer automáticos em Washington — mas esse é precisamente o problema. Grande parte do mundo agora ouve a retórica dos EUA sobre direitos humanos e o estado de direito como cínica em vez de aspiracional, especialmente quando não lida com padrões duplos. A consistência total é inatingível na política externa. Mas ao ouvir e responder a vozes mais diversas de todo o mundo, Washington poderia começar a construir um reservatório de boa vontade.
UMA DESPEDIDA DA PRIMAZIA
Em sua agenda mais afirmativa, a administração Biden está reposicionando os Estados Unidos para um mundo em mudança, focando na resiliência de sua própria democracia e economia enquanto reinicia alianças na Europa e na Ásia. Para estender essa regeneração em algo mais global e duradouro, deve abandonar a busca pela primazia enquanto abraça uma agenda que possa ressoar com mais governos e povos do mundo.
Como foi o caso na Guerra Fria, o maior feito da política externa será simplesmente evitar a Terceira Guerra Mundial. Washington deve reconhecer que todas as três linhas de falha do conflito global hoje — Rússia-Ucrânia, Irã-Israel e China-Taiwan — atravessam territórios além do alcance das obrigações de tratado dos EUA. Em outras palavras, estas não são áreas onde o povo americano está preparado para ir à guerra diretamente. Com pouco apoio público e nenhuma obrigação legal para isso, Washington não deve contar apenas com blefes ou acúmulos militares para resolver essas questões; em vez disso, terá que focar incansavelmente na diplomacia, reforçada por garantias aos parceiros da linha de frente de que há caminhos alternativos para alcançar a segurança.
Evitar atritos com linha-duras anti-Cuba e pró-Israel no Congresso pode parecer o caminho de menor resistência.
Na Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa devem focar em proteger e investir no território controlado pelo governo ucraniano — integrando a Ucrânia nas instituições europeias, sustentando sua economia e fortalecendo-a para negociações prolongadas com Moscou, para que o tempo trabalhe a favor de Kyiv. No Oriente Médio, Washington deve se juntar a parceiros árabes e europeus para trabalhar diretamente com os palestinos no desenvolvimento de uma nova liderança e em direção ao reconhecimento de um estado palestino, ao mesmo tempo em que apoia a segurança de Israel. A desescalada regional com o Irã deve, como ocorreu durante a administração Obama, começar com restrições negociadas em seu programa nuclear. Em Taiwan, os Estados Unidos devem tentar preservar o status quo investindo nas capacidades militares taiwanesas enquanto evitam provocações, estruturando o engajamento com Pequim para evitar erros de cálculo e mobilizando apoio internacional para uma resolução negociada e pacífica do status de Taiwan.
Os falcões inevitavelmente atacarão a diplomacia em cada uma dessas questões com acusações desgastadas de apaziguamento, mas considere a alternativa de buscar a derrota total da Rússia, a mudança de regime no Irã e a independência de Taiwan. Pode Washington, ou o mundo, arriscar uma deriva para uma conflagração global? Além disso, a realidade é que sanções e ajuda militar sozinhas não impedirão a propagação da guerra ou farão com que os governos da Rússia, Irã e China colapsem. Melhores resultados, inclusive dentro desses países, serão mais atingíveis se Washington adotar uma visão de longo prazo. Em última análise, a saúde do próprio modelo político e da sociedade dos Estados Unidos é uma força mais poderosa para a mudança do que medidas puramente punitivas. De fato, uma lição que se perde nos falcões de hoje é que o movimento pelos direitos civis fez muito mais para vencer a Guerra Fria do que a guerra no Vietnã.
Nada disso será fácil, e o sucesso não está pré-ordenado, pois adversários pouco confiáveis também têm agência. Mas, dadas as apostas, vale a pena explorar como um mundo de blocos de superpotências concorrentes poderia ser unido em coexistência e negociação em questões que não podem ser tratadas isoladamente. Por exemplo, a IA apresenta uma área em que o diálogo incipiente entre Washington e Pequim deve evoluir para a busca de normas internacionais compartilhadas. Os louváveis esforços dos EUA para perseguir a pesquisa colaborativa sobre a segurança da IA com países de mentalidade semelhante inevitavelmente terão que se expandir para incluir a China em conversas mais consequentes e de alto nível. Esses esforços devem buscar acordo sobre a mitigação de danos extremos, desde o uso de IA no desenvolvimento de armas nucleares e biológicas até a chegada da inteligência artificial geral, uma forma avançada de IA que corre o risco de superar as capacidades e controles humanos. Ao mesmo tempo, à medida que a IA se espalha pelo mundo, os Estados Unidos podem usar sua liderança para trabalhar com países que estão ansiosos para aproveitar a tecnologia para fins positivos, especialmente no mundo em desenvolvimento. Os Estados Unidos poderiam oferecer incentivos para que países cooperem com Washington tanto na segurança da IA quanto nos usos afirmativos de novas tecnologias.

Mandel Ngan / Reuters
Uma dinâmica semelhante é necessária na questão da energia limpa. Se houver uma segunda administração Biden, a maior parte de seus esforços para combater a mudança climática provavelmente se deslocará da ação doméstica para a cooperação internacional, especialmente se houver um governo dividido em Washington. À medida que os Estados Unidos trabalham para garantir cadeias de suprimentos para minerais críticos usados na energia limpa, será necessário evitar trabalhar constantemente em oposição a Pequim. Ao mesmo tempo, há uma oportunidade—por meio da “redução de riscos” nas cadeias de suprimentos, parcerias público-privadas e iniciativas multilaterais—de investir mais em partes da África, América Latina e Sudeste Asiático, que nem sempre foram destinos atraentes para o capital americano. Em certo sentido, a Lei de Redução da Inflação precisa ser globalizada.
Por fim, os Estados Unidos devem focar seu apoio à democracia na saúde das sociedades abertas existentes e oferecer apoio a grupos da sociedade civil sitiados ao redor do mundo. Como alguém que defende colocar o apoio à democracia no centro da política externa dos EUA, devo reconhecer que a calcificação da recessão democrática em grande parte do mundo exige que Washington recalibre sua abordagem. Em vez de enquadrar a batalha entre democracia e autocracia como uma confrontação com um punhado de adversários geopolíticos, os formuladores de políticas em democracias devem reconhecer que se trata, antes de tudo, de um choque de valores que deve ser vencido dentro de suas próprias sociedades. A partir desse ponto de vista autocorretivo, os Estados Unidos devem investir metodicamente nos blocos de construção dos ecossistemas democráticos: iniciativas anticorrupção e de responsabilização, jornalismo independente, sociedade civil, campanhas de alfabetização digital e esforços de combate à desinformação. A disposição de compartilhar informações sensíveis, exibida no período que antecedeu a guerra na Ucrânia, deve ser aplicada a outros casos em que os direitos humanos possam ser defendidos por meio da transparência. Fora do governo, movimentos democráticos e partidos políticos em todo o mundo devem se tornar mais investidos no sucesso uns dos outros, espelhando o que a extrema direita tem feito na última década, compartilhando melhores práticas, realizando reuniões regulares e formando coalizões transnacionais.
Em última análise, a coisa mais importante que os Estados Unidos podem fazer no mundo é desintoxicar sua própria democracia, o que é a principal razão pela qual uma vitória de Trump seria tão perigosa. Nos Estados Unidos, assim como em outros lugares, as pessoas anseiam por um renovado senso de pertencimento, significado e solidariedade. Esses não são conceitos que normalmente encontram seu caminho nas discussões de política externa, mas se os funcionários não levarem esse anseio a sério, correm o risco de alimentar o tipo de nacionalismo que leva à autocracia e ao conflito. A simples e repetida afirmação de que toda vida humana importa igualmente, e que todas as pessoas têm o direito de viver com dignidade, deve ser a proposta básica da América para o mundo—uma história à qual deve se comprometer em palavras e ações.
Fonte: https://www.ocafezinho.com/2024/06/19/uma-politica-externa-para-o-mundo-como-ele-e/