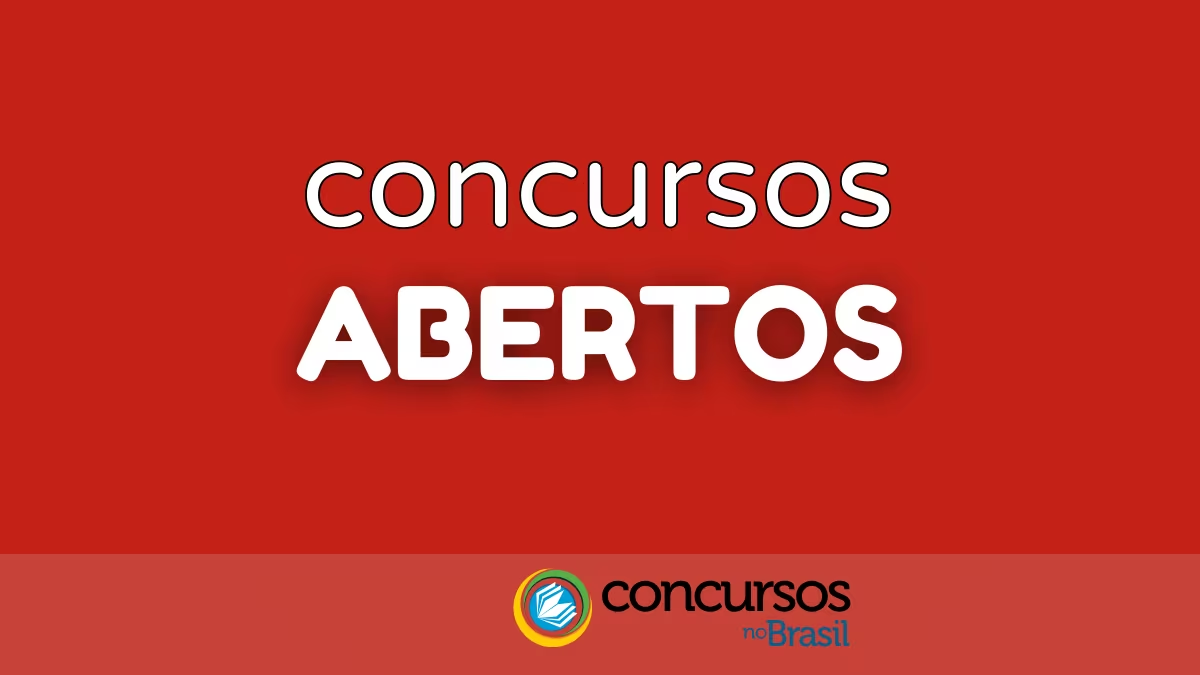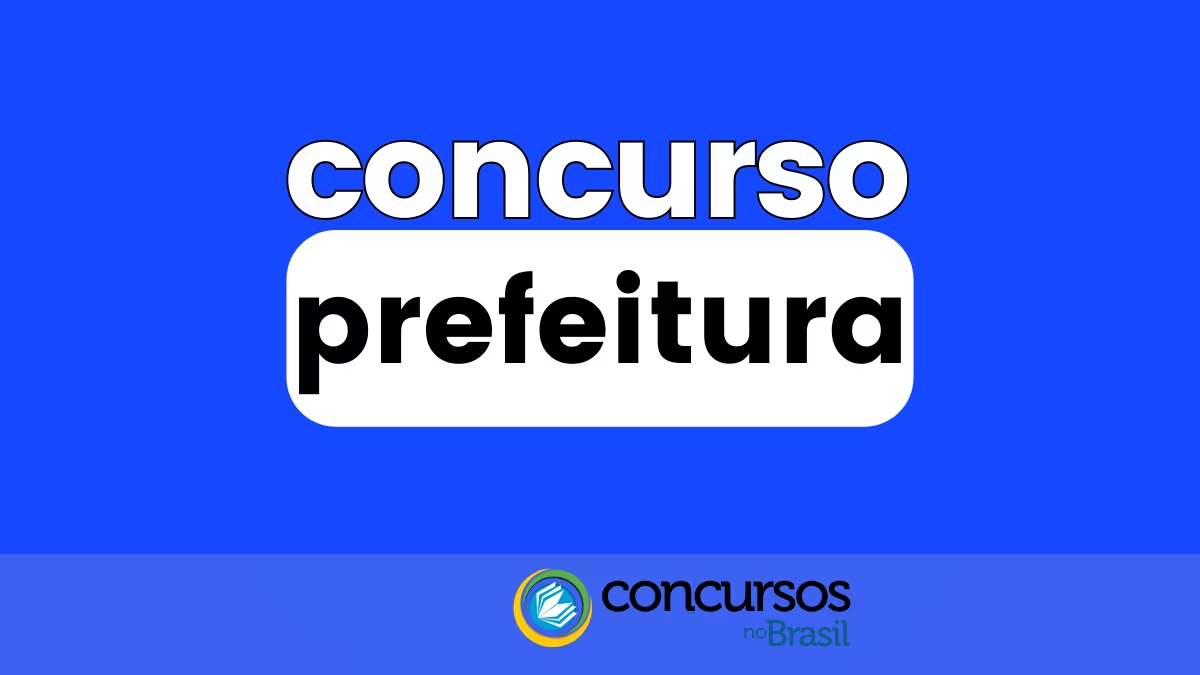Esta crónica foi publicada originalmente como parte da newsletter Clave de Sons, tendo sido qui publicada com a devida autorização do autor.
O Matty Healy é uma figura que me confunde e fascina. Amo-o e odeio-o e sei que não o único a nutrir isso. É um sentimento comum aos fãs de The 1975 por várias razões. Por ser um chato de primeira, por ser um gajo que é capaz de dizer tudo e mais alguma coisa, por ser um dude que, apesar de ter feito um dos discos mais políticos da última década – A Brief Inquiry Into Online Relationships (2018) –, vai a Glastonbury e afirma que não quer que o legado da sua banda seja somente “político” (até porque tudo o que fazemos política). Bem, nisso ele tem razão – não é. Os The 1975 são uma das bandas mais influentes da pop da última década apesar da política da sua música. Contudo, a “política” marca sem dúvida a carreira dos The 1975 no pós-A Brief Inquiry Into Online Relationships.
“Oh, fuck your feelings
Truth is only hearsay
We’re just left to decay
Modernity has failed us”
The 1975, “Love It If We Made It”
Se Matty Healy não queria que a sua banda tivesse algum legado político, talvez ele e os seus camaradas de longa data – Adam Hann, Ross McDonald e George Daniel – não deveriam ter feito A Brief Inquiry Into Online Relationships. Também não deveria ter ido ao podcast Doomscroll cuspir durante mais de duas horas sobre Mark Fisher, múltiplas temáticas relacionadas com a cultura da Internet – cultura essa que foi essencial para a popularidade dos The 1975 –, e o estado a que chegamos. (Recomendo que ouçam o podcast, mas reitero que são mais de duas horas a ouvir o Matty Healy a falar. Considerem-se avisados). Mas tenho a certeza que Healy sabe disso.
Como já escrevi numa Clave de Sons passada, a minha relação com a música dos The 1975 é “extremamente bipolar”. Ao início, detestei-os. Soavam-me a pop pretensiosa cantada com o sotaque mais irritante possível (“Chocolate”), e eram demasiado adorados para uma banda com tão pouco para dizer no seu álbum de estreia (The 1975, de 2013). Depois, deu-se um clique dentro de mim, ali entre o lançamento de A Brief Inquiry e Notes On A Conditional Form (2020), disco que contém tudo aquilo possível de adorar nos The 1975 – as grandes canções – e tudo aquilo possível de detestar – o pastiche, a megalomania, o pretensiosismo, o (cruzes, credo) “multi-género”.
De certa forma, esta bipolaridade é uma que Healy sabe navegar de forma exímia, particularmente quando acaba envolvidos em controvérsias por levar a sua performance como edgelord ao extremo. Às vezes, diz merda (“Saying controversial things just for the hell of it”, canta no hino “Love If It We Made It”), outras vezes diz a coisa “certa” da forma mais burra possível, e outras vezes diz só coisas que são verdade. Se há algo que define Matty Healy enquanto estrela da pop rock atual é a sua capacidade de se apresentar como o nepobaby mais inteligente da sala (que não é) e o gajo mais burro da sala (que certamente também não é). Admito que não acho as variações da persona pública de Healy excitantes, mas têm um certo charme. É engraçado ver as reações online das pessoas às suas ações e vocalizações e sentir que são previsíveis à era digital de hoje. Acredito que Healy saiba isso – literalmete o álbum chama-se A Brief Inquiry Into Online Relationships – e é por isso que assumiu, nos últimos anos, a persona pública de um músico “pós-woke”, tanto capaz de ser “sensível” (os The 1975 são uma banda muito emo) e de ser um “troll”. Assim escreveu Jia Tolentino na revista The New Yorker ao tentar chegar ao cerne da questão: afinal, quem é Matty Healy?
Não procuro – nem quero – responder a essa pergunta. Na realidade, nem quero muito saber se os The 1975 são uma boa (que são) ou má (às vezes, também) banda. Hoje, gosto muito da música dos britânicos, mesmo sabendo que é pastiche de outras eras musicais (a new wave, a sophisti-pop, o Britpop). Já vi-os ao vivo e diverti-me imenso (estiveram, de facto, at their very best) a dançar algumas das minhas canções favoritas da banda, como “It’s Not Living (If It’s Not With You” ou “If You’re Too Shy (Let Me Know)”, ou a chorar com “About You” ou “I Always Wanna Die (Sometimes)”. Penso muito num dos versos de “I Always Wanna Die (Sometimes)”, a canção que encerra A Brief Inquiry Into Online Relationships: “If you can’t survive, just try”. Sinto que esse foi o mote da minha experiência enquanto individuo durante muito tempo e sinto que é um sentimento partilhado por muitos jovens. “I’m sorry if you’re livin’ and you’re seventeen”, canta Healy na primeira canção de Being Funny In A Foreign Language (2022), o mais recente álbum dos britânicos. Para quê aguardar o futuro se este parece ausente de existir?

Todavia, é possível aceder A Brief Inquiry Into Online Relationships como porta para outras discussões através das temáticas que inspiraram a conceção do álbum. Em 2018, numa entrevista com a revista Coup de Main, Matty Healy afirmou que a sua banda não pretendia fazer um disco sobre a Internet. O que pretendiam, na verdade, era fazer um disco sobre “a experiência humana”. Contudo, como a Internet se tornou parte íntegra dessa “experiência”, tornou-se complicado para os The 1975 não abordarem o mundo online como temática unificadora do sucessor de I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it (2016).
Alguma da poesia que Healy escreveu para as canções de A Brief Inquiry Into Online Relationships denotam que os The 1975 sabiam (e sabem) do que estão a falar. Em “Inside Your Mind”, magnífica canção, Healy canta, logo a abrir, “I’ve been watching you walk / I’ve been learning the way that you talk”. São versos que tanto podem ser sobre o aprofundar de uma conexão amorosa, como sobre a nossa relação com o capitalismo de vigilância e os algoritmos que transformaram (e transformam) a experiência humana num projeto de scroll infinito governado por gigantes tecnológicos privados norte-americanos (Meta, Google, Microsoft, OpenAI). Em “The Man Who Married A Robot / Love Theme”, canção narrada pela Siri (o assistente digital da Apple), é contada a história de um homem que desenvolve uma relação parassocial com a Internet (“One day, the man, whose name was @snowflakesmasher86, turned to his friend, the Internet, and he said, ‘Internet, do you love me?’ The Internet looked at him and said, ‘Yes. I love you very, very, very, very, very, very much. I am your best friend. In fact, I love you so much that I never ever want us to be apart ever again ever.’”), antecipando as relações de parceria romântica ou parceria terapêutica que algumas pessoas estão a estabelecer com o ChatGPT e aplicações semelhantes.
Os dilemas éticos e filosóficos perante o uso de inteligência artificial não são novos. Quando Josheph Weizenbaum, matemático alemão, inventou nos anos 60 o primeiro chatbot – a que chamou de Eliza, capaz de emular conversas com um psicoterapeuta –, dedicou os anos seguintes a pensar criticamente sobre “computadores e inteligência artificial”, como assinalou João Gabriel Ribeiro num ensaio publicado na Shifter. Apesar das interações rudimentares oferecidas pelo Eliza em comparação com o ChatGPT, ambos acabam por servirem mesmo propósito: simulacro da realidade. E o que modelos como o ChatGPT efetuam é mesmo isso: uma simulação. Através da aproximação probabilística, regurgitam texto (e imagens e vídeo) conforme os dados que “rasparam” da Internet ou a informação providenciada pelo utilizador ao interagir com a interface que são utilizados para “treinar” o modelo e distanciá-lo das suas alucinações para um output mais fidedigno. Uma melhor simulação, portanto. Se acreditarmos que Jean Baudrillard tinha razão quando assumiu que, para uma simulação ser eficaz, esta tem de conseguir desfazer a realidade que pretende substituir, alguns dos piores vícios associados ao ChatGPT podem-nos fazer refletir de que podemos estar perante a chegada desses tempos.
A Internet, essa forma de “vida alienígena”, como lhe chamou David Bowie em1999, já não é o que era. Já não é um espaço de possibilidades descentralizado aparentemente infinito. Hoje, a Internet é um antro de bots a interagirem entre si, uma prisão centralizada onde os nossos dados são moeda de troca para o capital moribundo, e onde as nossas experiências e gostos são-nos devolvidos como um espectro que nos permanentemente nos assombra para nos manter online. E quanto mais tempo passamos online – e hoje em dia estamos 24 horas, sete dias por semana, devido aos smartphones –, mais dados providenciamos a esse fantasma para que ele continue a alimentar a máquina do capitalismo de vigilância e para que a simulação se torne mais fidedigna.
Eventualmente, alimentados pelos algoritmos que tanto têm a capacidade de nos acomodar (“Distract my brain from the terrible news”, como canta Healy em “It’s Not Living If It’s Not With You”, onde compara a heroína com a dopamina oferecida pela lógica do mundo digital), como de nos traumatizar (todos os dias, quando abro o Instagram, a primeira coisa que vejo são imagens do genocídio em Gaza pelas mãos do Estado de Israel), começamos a ficar isolados. Dizemos que não às inconveniências, às zangas, à felicidade. A sinceridade tornou-se assustadora (“Sincerity Is Scary”), o sexo também, mesmo que estejamos sempre presos num loop de fascínio com estas ações. O influencer tornou-se a nova figura do empreendedorismo neoliberal e totalitário, preso a movimentos e manias que não parecem reais, mas que agradam aos sistemas de recomendações das redes sociais. Tens de estar no TikTok, tens de produzir conteúdo em formato de vídeo para o Instagram, tens de estar no Twitter se queres ser cronista num jornal (eugh) ou comentador na televisão (euuugh). A “mediarquia” é real, mas mais real parece ser a “caquistocracia” conjugada pela própria mediarquia lado a lado o com o slop que se normalizou na totalidade no mainstream nas últimas décadas e que culmina agora no lixo gerado por inteligência artificial generativa. Quanta história estamos a repetir com cada microtendência?
Regressando a Baudrillard, uma passagem do texto The Precession of Simulacra (faz parte de Simulacra & Simulation) tem-me assombrado nos últimos tempos. Nesse texto, o filósofo francês assume que, “quando o real já não mais o que era”, a nostalgia assume “o total significado”. O próprio Matty Healy assume esse perigo. Antes de se escutar “A Change of Heart” no disco ao vivo Still… At Their Very Best (2025), Healy avisa os seus fãs: “não sejam nostálgicos”. Quando a noção do real desaparece, surge em resposta uma tentativa de restaurar uma realidade do passado onde o “objeto e a substância” ainda (alegadamente) importavam. Quando os The 1975 abordam a new wave e a sophisti-pop dos anos 80 em “A Change of Heart”, estão precisamente a fazer esse exercício. Há consciência. Se há algo que os The 1975 sabem fazer bem, é simular com sucesso esses sons do passado. Uma banda em total contacto com o presente, mas com mais do que pé e meio nos tempos de outrora.
É isso que torna os The 1975 num dos projetos mais influentes da pop da última década. Porque no pós-década de 2000, a música pop está presa num constante estado de simulacro (é isso que Simon Reynolds assume em Retromania). Hoje, mais do do que nunca. Seja na devoção à cultura dos anos 2000 de Charli XCX com BRAT, em como Chappell Roan “resgata” a “diva” dos anos 80, como Olivia Rodrigo bebe do rock alternativo dos anos 90. A Future Nostalgia de Dua Lipa. Sabrina Carpenter ir beber um “Espresso” de uma era muito específica da soul e do funk do pós-disco do início da década de 80. A pop está presa num exercício de retroalimentação simulada, uma busca constante por um objeto do passado capaz de gerar conexão real. Os sons de SOPHIE eram exceção a essa regra, mas hoje a própria estética associada à PC Music, outrora tão inovadora, tornou-se pastiche. Se colocares sons metálicos numa faixa, ela passa a ser classificada como hyperpop, mesmo que esteja distante do ethos apresentado em canções como “LEMONADE” ou “Immaterial” (a melhor canção pop das três últimas décadas).
Simon Reynolds e Mark Fisher escreveram bastante sobre este assombramento (hauntology), mas é o primeiro – crítico e jornalista britânico – que apresenta talvez a melhor relação entre esse fenómeno e o estado a que chegamos. Se o futuro é suposto ser “heroico e grandioso”, porque é que as atividades permitidas pelas novas tecnologias, como o ChatGPT (que não é bem nova, mas isso é toda outra conversa), “se assemelham mais à fase decadente de um império de face voltada para si mesmo do que disposto a avançar em direção a um futuro ousado”? A assombração é real e resulta em fenómenos como a busca incessante pela tecnologia do passado de forma consciente. Seja o vinil, o CD-R, o DVD, a fotografia analógica ou as câmaras de filmar digitais (em si simulacros da realidade também). Este é um exercício em que me revejo. Ouço vinil não porque sinto que é o futuro, mas porque sinto que é algo que me agarra a uma realidade ainda não totalmente substituída pelo simulacro em que alguns nos pretendem e querem prender. É tangível ao toque, tal como o contacto e conexão humana.
No outro dia, li uma entrevista no Ípsilon com o filósofo italiano Franco “Bifo” Berardi, onde este assumia que tinha perdido a esperança e assumiu a derrota. “A verdade é, sintetizando, a experiência humana acabou”, afirmou. Berardi é sem dúvida um dos grandes pensadores das últimas décadas, e a ideia que relata na entrevista com o suplemento cultural do jornal Público surge não só a partir de alguns dos pensamentos de Baudrillard, como também a partir de outras ameaças que parecem cada vez mais próximas à humanidade. A crise climática, a guerra, o genocídio, a inteligência artificial, os ataques aos direitos dos trabalhadores, a alienação de Marx, a pandemia do individualismo neo-liberal (compasso de espera para respirar), a transferência de recursos para os mais ricos, a desigualdade, a destruição do coletivo, a morte da política e do mundo concebido no pós-Segunda Guerra Mundial. Nunca tivemos tão separados e isolados uns dos outros e é natural que estes discursos cataclísmicos surjam com cada vez mais frequência nos próximos anos na esfera pública (do que resta dela, pelo menos). O colapso a que os mais ricos nos pretendem conduzir parece iminente e potencialmente mais desastroso que outros colapsos sociais do passado. Mas será que ficarmos a definhar (“We’re just left to decay”) e desertarmos, como Berardi assuma na entrevista com o Y, é a resposta?
É preciso ter noção do tamanho privilégio para afirmar estas declarações com toda a convicção. Berardi de certeza sabe disso quando afirma que a “frugalidade nunca foi considerada pelo movimento operário”. Sim, o capitalismo à nossa volta tornou-se de tal sufocante que, tal como Healy canta em “I Always Wanna Die (Sometimes)”, há dias em que é mais fácil morrer do que continuar a viver. Sim, é complicado imaginar um futuro onde este quasi-niilismo-determinista pregado por Berardi não seja a regra. É um discurso que advém e toca na ideia do “fim da história”, o mesmo fim da história profetizado que alimenta o fascismo do fim dos tempos que marca a ideologia dos ultracapitalistas e ultracolonialistas dos dias de hoje – de Donald Trump a Benjamim Netanyahu, de Mark Zuckerberg a Elon Musk ou Peter Thiel. Mas este niilismo falha numa coisa. É um fim da história que não tem em conta a resistência de outras lutas e revoluções constantes levadas a cabo por, por exemplo, coletivos anticolonistas e queer que tentam imaginar um futuro que seja cooperativo e solidário, um futuro que seja novo. Enquanto pessoa queer, talvez tenha sido por isso que a entrevista de Berardi me deixou algo irritado. Não me revejo no seu determinismo.
Se a revolução é um estado constante, então qualquer tipo de discurso que fuja a isso é um discurso apenas e só possível de imginar quando este se encontra preso ao grandioso privilégio (o ocidenal, o masculino) que se encontra ameaçado. É aqui onde, na minha ótica, reside o erro discursivo de Berardi. Se o teu passado é um onde a tua mera existência significava uma ameaça ao teu direito de viver uma vida digna, de que vale a pena ficar preso ao antigo quando é necessário erguer um novo? A resposta aos desafios do presente também passa por aí.
Como escreveu recentemente o pesquisador e comunicador brasileiro Matheus Sodré num ensaio sobre o impacto da inteligência artificial no nosso cognitivo, por muito que que hajam bastante interessados em que desistamos e que deixemos de acreditar num possível futuro, “não estamos paralisados diante dessa virada”. Interagimos com a tecnologia e com o mundo onde esta se insere. Se há algo no ar que nos faz deitar a toalha ao chão (“It’s somethin’ about the weather that makes them lie down”, canta Healy em “When We Are Together”), então é necessário um lembrete que temos capacidade de imaginar um mundo novo. Porque, como o Matheus refere, todo o “evento de transformação a nível tectônico é, na sua essência, uma excepcional oportunidade de transformação”. Se a modernidade falhou, está então na altura de abraçarmos, coletivamente, a imaginação de algo além disso.
Como prelúdio a este texto, além das referências mencionadas, recomendo lerem o texto “BRAT, indie sleaze e a nostalgia escapista pelo Y2K” que escrevi na edição de 2024 da revista MIL.
Fonte: https://comunidadeculturaearte.com/the-1975-e-o-simulacro-digital-do-nosso-tempo/